Entre 1967 e 1971, Tove Ditlevsen publicou três livros que viriam a compor uma das obras mais contundentes da literatura autobiográfica europeia: Infância, Juventude e Dependência.
Agora reunidos sob o título A Trilogia de Copenhaga, estes textos ultrapassam os limites do memorialismo tradicional para se assumirem como uma cartografia íntima e implacável da experiência de ser mulher, escritora e corpo vulnerável num mundo que não oferece concessões.
A narrativa inicia-se na infância passada num bairro operário de Copenhaga: o mutismo emocional dos adultos e a rigidez dos costumes impõem-se como a primeira forma de aprendizagem da pequena Tove.
Sensível à linguagem e ao desconforto que a rodeia, a escritora descobre cedo que o mundo das palavras funciona como refúgio — mas também como fronteira. Não há idealização neste retrato inaugural; há, sim, uma contenção crua que evita a nostalgia e privilegia a fidelidade à sensação de deslocamento.
Segue-se Juventude, que retrata o embate com o mundo laboral, o início da publicação de poemas e as tentativas frustradas de encontrar um contexto em que o talento não seja confundido com vaidade ou capricho.
A escrita de Ditlevsen ganha aqui uma ironia discreta, quase impercetível, que revela a tensão entre expetativa e realidade. A autora observa-se de fora, como se cada decisão sua já fosse a repercussão de uma derrota anunciada.
É em Dependência que o texto mergulha num território ainda mais árido. A progressiva subjugação ao vício — primeiro emocional, depois farmacológico — é descrita com uma precisão clínica, impressionando pela ausência de dramatismo.
A autora não procura justificar-se nem provocar compaixão; limita-se a documentar um processo de anulação conduzido com a passividade de quem, por dentro, já não resiste. A dependência torna-se, também ela, uma forma extrema de silêncio — talvez a mais radical de todas.
A trilogia de Ditlevsen distingue-se pela sobriedade estilística e pela recusa de artifícios ou exaltações. Cada frase nasce de um lugar de exaustão e, ao mesmo tempo, de lucidez, como se escrever fosse, acima de tudo, uma forma de não se deixar mentir. Esta não é uma obra que se leia à procura de consolo ou lições.
«Estou perdida de amores por ti, disse eu quando estávamos deitados na minha cama. Passas a noite comigo? Passo, sim, para o resto da vida, disse ele com um sorriso rasgado que deixou à mostra os seus dentes branquíssimos. Então e a tua mulher?, perguntei. Temos a lei do amor do nosso lado, disse ele. Essa lei, disse eu, beijando-o, dá-nos o direito a magoar outras pessoas».
Num tempo em que se banaliza o termo «literatura do eu», A Trilogia de Copenhaga recorda-nos que a exposição do íntimo exige rigor, coragem e um pacto intransigente com a verdade — mesmo quando essa verdade compromete. Mais do que um testemunho de vida, este livro impõe-se como um gesto literário de raro alcance. Ou, talvez, como um espelho sem moldura: em que o reflexo da dor e da lucidez nos obriga a olhar — e a não desviar os olhos. E se a narrativa ficcional concede no final espaço à esperança, já a realidade não perdoou: Ditlevsen tirou a própria vida em 1976, aos 58 anos.
«Retomei a escrita e, sempre que a realidade me perturbava, comprava uma garrafa de vinho tinto e partilhava-a com o Victor. Sobrevivi aos meus longos anos de toxicodependência, mas o antigo vício, que se incrustou bem dentro de mim, ensombra-me sempre que tenho de fazer uma análise ao sangue ou passo diante da montra de uma farmácia. Enquanto for viva, nunca desaparecerá por completo».
Obrigado por fazer parte desta missão!


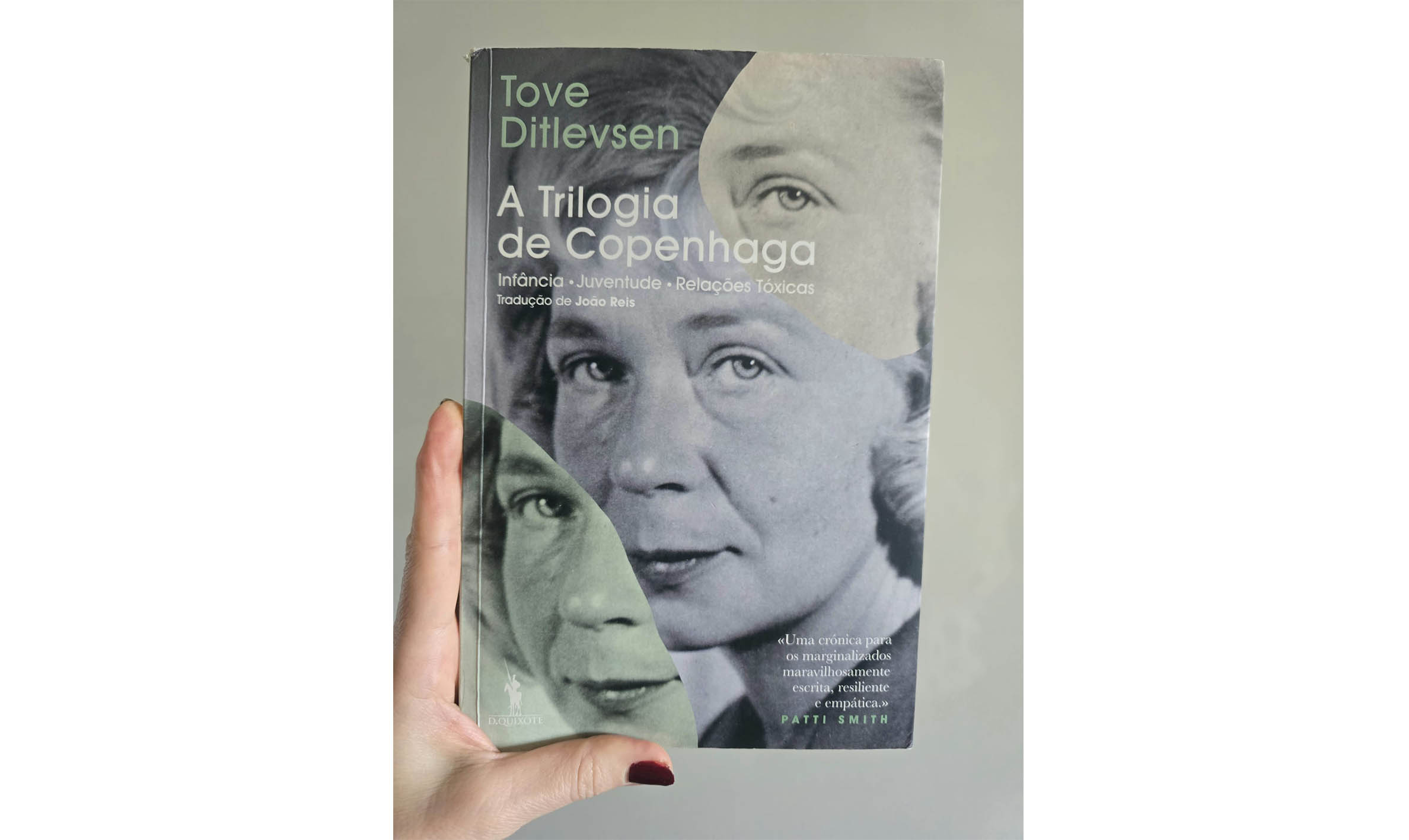




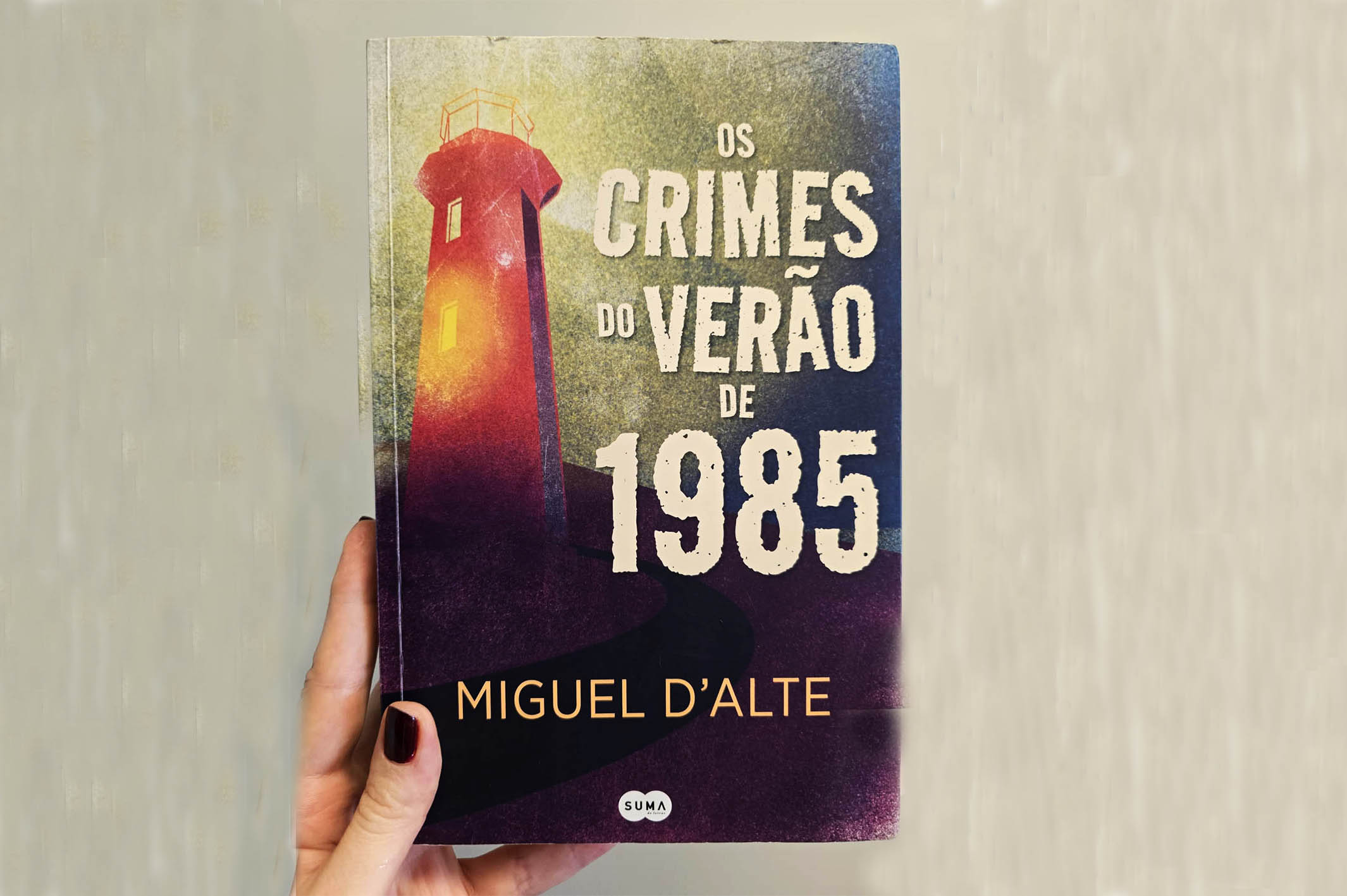




Um livro maravilhoso, apesar de revelar fragilidades sociais e pessoais.
Efetivamente é toda uma obra sem dramatismo, crua e tal qual a autora a viveu. Ao lê-la tive sempre a esperança que ela deixasse a dependência, mas não, foi igual a si própria até no fim da vida que se impôs. Fiquei fascinada com esta obra.
Li o livro e adorei-o. Também gostei muito da resenha literária. Profunda. O livro é exatamente o que aqui está descrito.