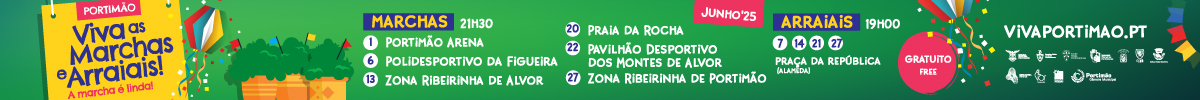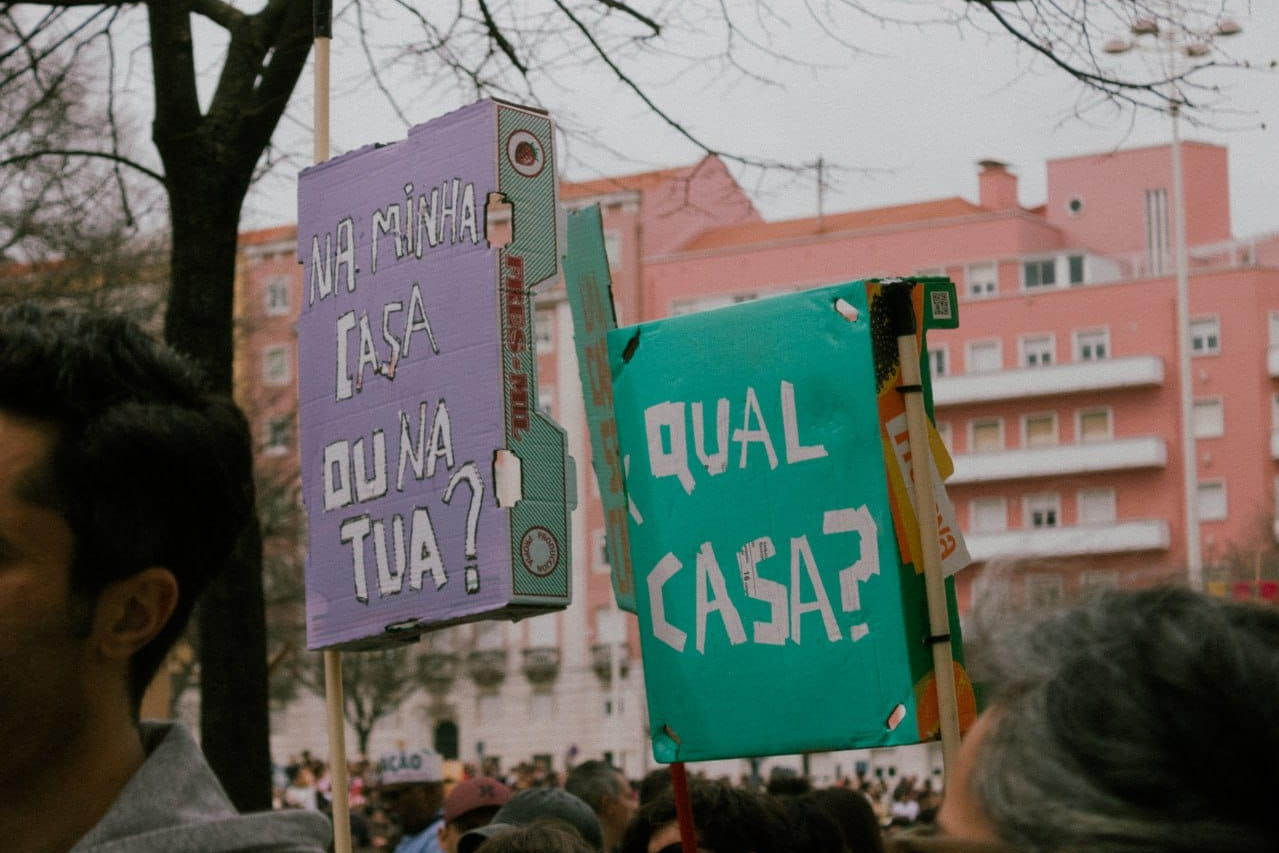Uma «lenda negra» difundiu a falsa imagem do atraso científico do nosso país no século XVIII. Mito posto a circular, já durante o período oitocentista, por Oliveira Martins e outros grandes vultos do Positivismo, para denegrir o «Portugal» velho, anda longe de corresponder à realidade dos factos.
Basta pensar no progresso de disciplinas como a Botânica e a Zoologia, a Geologia ou a Medicina, a Agronomia ou a Química, especialmente a partir da época pombalina, para que o obtuso conceito de uma suposta procrastinação lusa no avanço das ciências tombe por terra.
Foi precisamente devido ao estudo da História da Ciência em Portugal que tive oportunidade, em tempos recentes, de me debruçar sobre as coleções de museus brasileiros. Tão importante era a dimensão técnico-científica implantada pelos portugueses no Brasil colonial e depois aqui desenvolvida pelas suas comunidades que ela ainda pode ser vista, com assinalável expressão, até em monumentos que pertenceram à Igreja.
No grande país irmão, há dois organismos votados ao património histórico-religioso que sobressaem pela relevância dos seus acervos. Um é o Museu de Arte Sacra da Bahia, em Salvador, adstrito à Universidade Federal; o outro, o Museu de Arte Sacra de São Paulo, dependente do poderoso Governo deste Estado.
Ambos estão instalados em antigos conventos, ambos são notáveis, mas o museu paulista impressiona de forma especial, não só pelo facto de constituir um oásis de paz e beleza na vastidão de uma área metropolitana imensa – que é o coração e o nervo do Brasil e cuja população citadina excede a de Portugal –, mas também por apresentar, em termos impecáveis, o seu excepcional património móvel num contexto arquitetónico muito próprio.
Trata-se de uma instituição marcante, ao nível internacional, e que tem concitado a apreciação de numerosos visitantes, com a vantagem de que permite conhecer, de perto, a riquíssima história da região onde está implantada.
Examinando recentemente os núcleos do Museu de Arte Sacra de São Paulo, verifiquei algo que me deixou atónita: textos assinados por José António Falcão, dispostos nas paredes ou acessíveis por Código QR, em várias línguas. Isto chamou-me a atenção, por se tratar de um nome, afinal, tão ligado ao Alentejo e, sobretudo, a Beja.
Pedi esclarecimentos e apurei que aquilo que tanto me intrigara tinha explicação simples: essas referências eram o fruto do labor de um investigador português, aplaudido além-fronteiras pelos seus estudos sobre património artístico-religioso, considerados uma referência internacional dentro do sector.
Os interlocutores brasileiros, que eu tinha acabado de cumprimentar, aludiram mesmo o Alentejo, e em particular Beja, como uma «Meca» da arte e da história religiosas. E aludiram com apreço às iniciativas pioneiras para defender e divulgar esta herança, daquele nosso cientista, pessoa discreta, mas cuja fama voga sobre as águas.
Comoveu-me ouvir recém-conhecidos (portanto, quase desconhecidos) falarem, em paragens tão distantes, da região alentejana, dos seus monumentos e das suas gentes.
Pelos vistos, Beja e o Alentejo, exemplos do peso da interioridade na pequena casa lusitana, ainda dão cartas em certas matérias, ainda representam um “corpus” de saberes e práticas com sentido e significado para uma metrópole global, como São Paulo, que pede meças, nos seus museus e em tantas outras coisas, ao que há de melhor no mundo.
Senti orgulho por ver a atividade de um autor português do nosso tempo colocada bem em evidência nos espaços e publicações de um proeminente museu do outro lado do Atlântico.
Às vezes têm de ser os de fora a lembrar-nos o mérito de quem vive e trabalha ao nosso lado.
O reconhecimento, por um escol da cultura brasileira, do influente trabalho do professor Falcão, no Alentejo e fora dele, começado a partir de Beja, merece registo. É assim que se internacionaliza uma região e, já agora, muito do melhor que há num país.
Autora: Sofia Carrola é investigadora do Centro de Filosofia das Ciências (Universidade de Lisboa)